Num artigo no The New Yorker sobre a autoimolação do jovem militar Aaron Bushnell, como forma de protesto contra o genocídio em curso na Faixa de Gaza, a colunista Masha Gessen sintetiza bem esse ato: “Self-immolation is a nonviolent act of despair” (a autoimolação é um ato não-violento de desespero). (Quer dizer, mesmo se pudermos assumir que é uma forma pacífica de protesto nem por isso deixa de ser violenta, extremamente violenta…). A autoimolação como forma política tem essa característica de representar o limite da revolta contra o estado de coisas e simultaneamente a assunção de que esse estado de coisas é irreversível. A autoimolação é a confissão de uma impotência; mais, é uma declaração política sobre a perda de esperança neste mundo. Por isso Masha Gessen pode escrever que esse gesto “began when hope died” (começa quando a esperança acabou). A autoimolação abrange o paradoxo de constituir uma forma de protesto político votado à autoextinção, à confissão da impotência, à demissão de toda a vontade. É uma forma de protesto político contra a própria possibilidade da política, a sua produtividade. De facto, chama a atenção, distingue-se e afirma-se pelo seu caráter público, mas esgota-se integralmente na força do seu próprio gesto; comunica que o mal está entranhado em todos os poros da sociedade e que nada há a fazer não sendo colaborar, conformar-se ou suicidar-se. A autoimolação é o fim de toda a resistência. Será preciso uma grande sensibilidade (e consciência) das formas de opressão política que tornam insuportável continuar a conviver com as mesmas, esse continuar a “normalizá-las” ou “banalizá-las”, mas como que esta “hipersensibilidade”, este apurado sentido ético, corre o risco de se tornar meramente “performativo” (reconhecendo-se na dimensão do religioso e suas mais exacerbadas expressões de sacrifício terreno) quando se revela incapaz de servir de motivação para permanecer (perseverar) ao invés de abandonar. Nesse sentido a autoimolação é o mais acabado e integral exemplo de “suicídio político”. Por outro lado, é também um ato que nos interpela e provoca. Ao procurar tornar visível a banalização do mal (para repescar uma fórmula de Hannah Arendt), a mais acabada cumplicidade das pessoas com a violência tornada sistema, a autoimolação pretende acordar-nos do nosso torpor ético, esse outro “sono dogmático”. Quem desiste do mundo desiste efetivamente de nós sem exceções. E qual o nosso real contributo para que o desespero não tome a forma política da autoimolação? Até onde é capaz de ir a nossa indiferença e conformação? É que enquanto um grupo muito raro de pessoas se autoimola porque sente que o mundo já não tem salvação nem resposta, a esmagadora maioria dos homens e mulheres continuam nas suas vidas garantindo todos os dias que o mundo não tem mesmo salvação. A autoimolação é também essa tentativa de nos confrontar no espelho daqueles que são os nossos verdadeiros valores e princípios; o lugar que ocupamos no mundo.
Na sua última mensagem ao mundo deixada no seu mural no Facebook o jovem trágico Aaron Bushnell escreveu: “Many of us like to ask ourselves, ‘What would I do if I was alive during slavery? Or the Jim Crow South? Or apartheid? What would I do if my country was committing genocide?’ The answer is, you’re doing it. Right now.” (“Muitos de nós gostamos de nos perguntar: ‘O que eu faria se estivesse vivo durante a escravatura? Ou no Sul dos Estados Unidos perante as leis de Jim Crow? Ou em apartheid? O que eu faria se o meu país estivesse a cometer genocídio?’ A resposta é: nós já estamos a fazer isso. Agora mesmo”.).
O sentido das perguntas é política e eticamente avassalador; traz-nos para dentro da espessura da história a que fazemos parte, da qual não podemos fugir, nem mesmo através de falácias como a do anacronismo. Não há espírito do tempo (zeitgeist) que possa justificar a nossa fuga à responsabilidade moral perante os outros e, claro, perante nós próprios. É muito difícil tornar eticamente aceitável o racismo pelo simples e sinistro facto de toda a gente à nossa volta o ter tornado aceitável. A ética interpela-nos enquanto sujeitos de escolhas, de vontades, que não podem ser simplesmente alienadas para o regime heterónomo do senso comum, do faço assim porque todos os fazem da mesma maneira. Compreendermo-nos como sujeitos dotados de personalidade ética e de autonomia é justamente escaparmo-nos a esta mesmidade moral; ao disse que disse, ao faço que faço. E se o mal se torna banal isso talvez se deva à nossa desistência, antes de todas a desistência individual, de escolhermos o bem, de o promovermos, propagarmos e praticarmos. Isto apesar ou para lá de todas as dificuldades de definirmos o que é isso do bem ou das boas ações. Até esta definição é procurada e precariamente alcançada através dessa busca pelo agir bem; as respostas estão sempre subjacentes às perguntas e as perguntas às respetivas respostas…
E o nosso Aaron Bushnell não deixa de pôr o dedo na ferida. As especulações em torno daquilo que faríamos em x ou y contexto de interpelação política e ética são infrutíferas se não tomarmos consciência de que elas não se projetam para cenários hipotéticos, mas para a contemporaneidade da qual sempre fazemos parte. “The answer is, you’re doing it. Right now”. Nós já estamos embarcados dentro dos nossos próprios “cenários do mal”. Seja a repetição do horror genocida em Gaza, seja a sobre-exploração laboral dos estafetas, a guetização de sujeitos racializados ou a cada vez mais desabrida afirmação de contravalores fascistas através do voto na extrema-direita e sua respetiva normalização institucional.
Num imperdível artigo para o The Guardian intitulado “The Zone of Interest is about the danger of ignoring atrocities – including in Gaza”, Naomi Klein relembra as palavras do realizador Jonathan Glazer em respeito ao filme em causa: “Genocide becomes ambient to their lives”. O genocídio tornou-se o novo normal na vida pequeno-burguesa de uma família nazi que habitava paredes-meias com um campo de concentração. E, na verdade, podemos até assumir que essa relação entre os privilégios relativos de alguns, poucos, e a deterioração absoluta do modo de vida de outros, muitos, pertence à própria condição da sociedade de classes. No capitalismo a burguesia só pode triunfar sobre a miséria dos proletários; assim como a condição para o modo de vida aristocrata dependia das condições de vida dos plebeus, dos servos ou dos escravos. Assim se compreende por que razão a ética nunca pode ser dissociada da política e de sua disputa. A pergunta que nos podemos também colocar é sobre até onde estamos dispostos a ir na banalização do mal, na institucionalização da violência, na defesa dos interesses enquanto membros de uma determinada classe e respetivos privilégios relativos. Qual o preço que estamos dispostos a pagar para preservarmos a nossa condição de vida relativamente estável ou orgulhosamente burguesa? Porque aquilo que temos a pagar é pago ao preço de o genocídio se poder tornar parte do ambiente das nossas vidas “normais”, numa espécie de estética negra que torna possível esta mesma “normalidade”.
O conteúdo Aaron Bushnell ou a trágica revolta contra a banalização do mal aparece primeiro em Interior do Avesso.


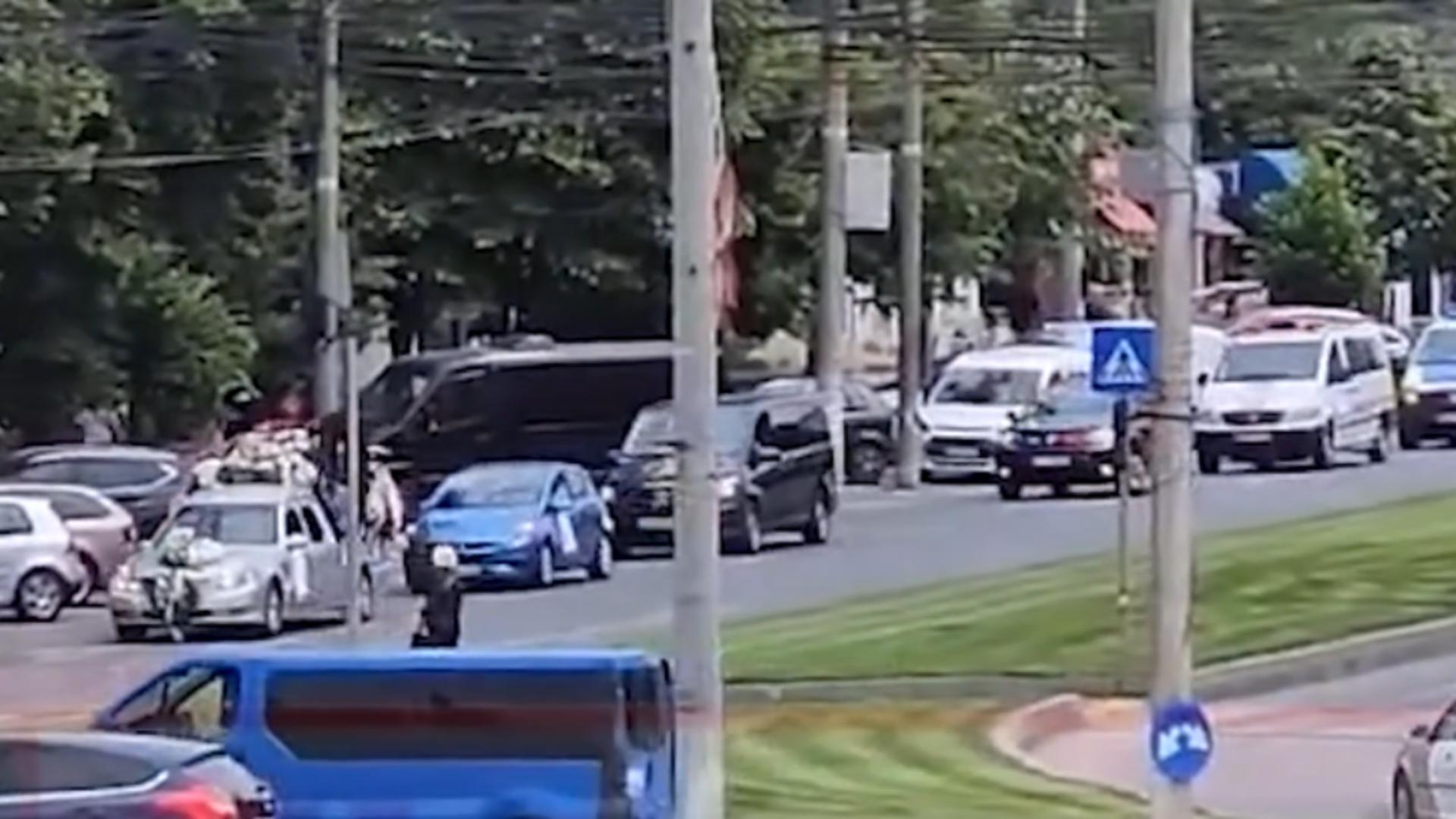
_6c1e95575f.jpg)

